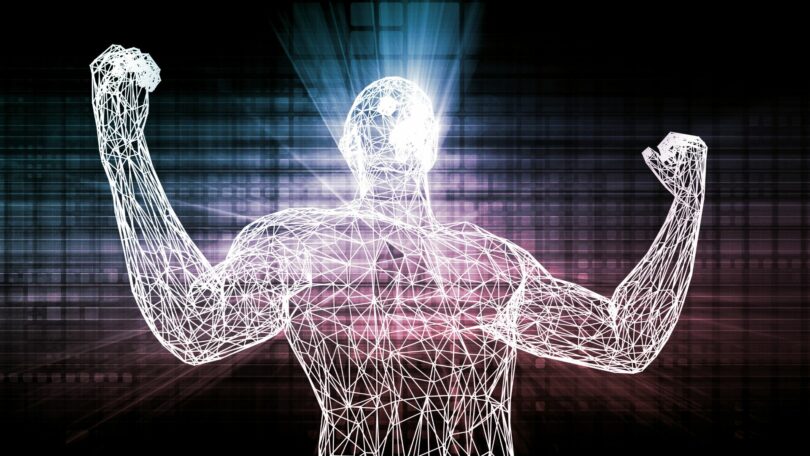A tecnologia trouxe avanços inegáveis. Otimizou processos, encurtou distâncias, automatizou tarefas repetitivas, melhorou diagnósticos médicos e abriu novas possibilidades em praticamente todas as áreas da vida. Mas transformar tecnologia em resposta universal tem gerado problemas práticos, sociais e até éticos. A pergunta que precisa ser feita não é o que a tecnologia consegue fazer, mas o que ela deveria fazer. E o que ela não pode substituir.
Em nome da eficiência e da economia, muitos espaços começaram a substituir pessoas por sistemas. Isso tem acontecido de forma acelerada em condomínios, por exemplo. Portarias físicas foram desativadas e substituídas por centrais remotas. Em tese, tudo funciona por câmera, interfone e aplicativo. Na prática, porém, o que muitos moradores vivem é uma rotina de frustração e insegurança. Entregadores impacientes, moradores que não conseguem acessar suas próprias casas após uma queda de energia, visitantes retidos na entrada por falhas na comunicação.
Muitos desses condomínios não contam com nenhum porteiro físico, apenas um zelador, quando têm, durante o horário comercial. Depois disso, moradores ficam dependentes de um sistema que nem sempre responde. Basta uma queda de energia e ninguém entra, ninguém sai. Quando o sistema falha, o morador precisa resolver sozinho. À noite, finais de semana e feriados, o condomínio vira um território automatizado, mas desassistido.
A promessa de que a tecnologia é mais segura também não se sustenta por completo. Nem todo condomínio investe em segurança privada ou rondas presenciais. E se a portaria remota for a única presença no local, há um vácuo claro. Máquinas não reagem ao imprevisível como seres humanos. Um porteiro atento, que conhece os moradores e percebe algo estranho no comportamento de um visitante, é mais eficiente do que uma câmera que transmite imagens para alguém a quilômetros de distância, com dezenas de outros acessos simultâneos para monitorar.
Além disso, a dependência excessiva da automação cria uma cultura de desresponsabilização. Quando ninguém está presente fisicamente, o problema é sempre do sistema. Mas o sistema não ouve reclamação, não acolhe frustração e, principalmente, não resolve urgências com a mesma empatia e velocidade de um ser humano.
Outra dimensão preocupante está na forma como consumimos informações geradas por ferramentas de inteligência artificial. Há uma crença crescente de que tudo que um chat responde é baseado em dados confiáveis e verdade. Mas isso é perigoso. Muitas dessas ferramentas fabricam informações. Inventam autores, pesquisas e até trechos de livros que nunca existiram. Sem checagem, muita gente compartilha conteúdo falso achando que está informando, quando, na verdade, está reproduzindo desinformação.
Isso não acontece por má-fé da pessoa que compartilha. Acontece porque a tecnologia foi romantizada. Colocada num pedestal de neutralidade e infalibilidade que ela não tem. A inteligência artificial é treinada com base em bancos de dados, mas esses dados carregam recortes, omissões, preconceitos e até erros. Ferramentas digitais não pensam. Calculam. E por trás de qualquer cálculo, sempre há um ponto de vista, mesmo que disfarçado de objetividade.
O uso sem reflexão abre espaço para decisões equivocadas. Em áreas como saúde mental, espiritualidade, educação ou direito, isso pode causar danos reais. Não se trata de descartar a tecnologia. Mas de entender seus limites. Atribuir a ela um papel que só o ser humano pode cumprir, o de sentir, discernir, interpretar, é um risco.

Curiosamente, alguns setores já começam a dar sinais de que a substituição total não funcionou. Empresas que apostaram exclusivamente em chatbots estão recontratando atendentes humanos. Clínicas que automatizaram todos os seus processos voltaram a incluir secretárias e recepcionistas para acolher o paciente de forma mais próxima. Até grandes plataformas de e-commerce estão revendo suas políticas para incluir canais de atendimento por voz, porque perceberam que o pós-venda exige mais do que respostas automáticas. Exige presença.
Esse movimento de retorno não é nostalgia, é necessidade. Não se trata de rejeitar a tecnologia, mas de reconhecer que ela é meio, não fim. E que a vida, com todos os seus ruídos e imprevistos, não cabe em sistemas binários. O humano ainda é insubstituível em muitas camadas, sobretudo nas que envolvem cuidado, escuta, percepção e tomada de decisão com base na experiência e no contexto.
Você também pode gostar
A tecnologia continuará evoluindo. Isso é inevitável. Mas talvez o avanço dos próximos anos seja reaprender a usá-la com discernimento. Saber onde ela ajuda e onde atrapalha. Onde substitui tarefas e onde não pode substituir vínculos.
Há muito discurso otimista sobre um futuro 100% automatizado. Mas o que está se desenhando em silêncio, nos bastidores do cotidiano, é outra realidade: a de que o toque humano faz falta. A de que eficiência sem presença cobra um preço. A de que segurança não se faz só com sensores, mas com olhos atentos e coração presente. E a de que, se quisermos uma vida com mais qualidade, não será entregando tudo às máquinas, mas fazendo escolhas mais conscientes sobre quando as usar e quando voltar a ser gente.